Venezuela: quando o diálogo cansa
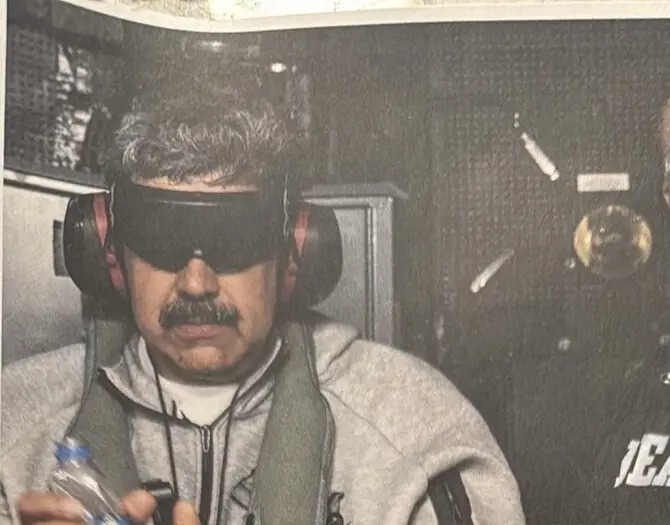
A Venezuela foi se deteriorando à vista de comunicados, notas oficiais e discursos bem-intencionados. Todo mundo viu. Ninguém resolveu.
A ação de Donald Trump não precisa ser tratada como aberração moral ou ruptura da ordem mundial. Ela é consequência. Vem depois de anos de impasses, de promessas de mediação, de negociações que nunca saem do lugar. Quando a política passa tempo demais discutindo, alguém aparece disposto a decidir — não por virtude, mas por disposição a assumir o custo.
As reações no Brasil ajudam a entender esse movimento. Eduardo Leite fala em diálogo, princípios, limites. É um discurso correto, civilizado, que soa bem no centro político e rende bons aplausos. O problema é que esse diálogo nunca existiu com a Venezuela real. Repeti-lo agora não altera o cenário. Serve mais para marcar posição do que para influenciar o desfecho.
Lula segue outra linha. Ao invocar soberania como resposta automática para defender um regime que desmontou suas próprias instituições, o argumento perde força. E muita coisa que antes seria descartada começa a parecer aceitável. Não se trata de proteger a democracia, mas de esvaziar a linguagem que deveria sustentá-la.
O mundo real nunca foi organizado por líderes de diálogo permanente. Foi atravessado por líderes que souberam reconhecer quando o diálogo havia se esgotado. Winston Churchill não entrou para a história por sua capacidade de mediar sentimentos, mas por compreender que havia momentos em que recuar era apenas outra forma de perder. É difícil imaginar como estaria o mundo hoje se, diante do intolerável, a opção tivesse sido insistir em conversa.
E aqui um parêntesis, porque a pergunta vale para o Brasil. Como seria o país se, por décadas, não tivesse tratado o intolerável como algo negociável? O crime organizado se expandiu porque sobrou tolerância. Facções ocuparam territórios porque governos aceitaram conviver com elas. A política do diálogo permanente, que repudia ações firmes e promete soluções sempre futuras, não pacificou favelas nem protegeu cidadãos. Apenas deu tempo, espaço e legitimidade para quem nunca quis dialogar.
Voltando: o pano de fundo é mais amplo. O liberalismo político, como método de decisão, tornou-se lento demais para um mundo que opera sob pressão constante. Negociações intermináveis, consensos artificiais, decisões sempre empurradas para frente. A população percebe isso. E se cansa.
Não surpreende que lideranças de pulso estejam surgindo em sequência: Javier Milei, Nayib Bukele, Giorgia Meloni, Viktor Orbán, além do próprio Trump. Eles aparecem onde a política se limita a administrar impasses e evita o risco da decisão.
Nada disso é novo. Aristóteles escreveu, há mais de dois milênios, que a falência da democracia não vem da sua ausência, mas do excesso. Quando tudo vira procedimento, votação e ritual, a política deixa de organizar a vida comum e passa a girar em torno de si mesma.
O discurso do “centro” ainda é elegante. Seduz. Funciona bem em notas, entrevistas e redes sociais. Mas governa cada vez menos. O eleitor que compartilha uma nota equilibrada é o mesmo que cobra decisão quando o caos bate à porta. Governos que falam demais e fazem de menos criam um espaço que ninguém administra.
E quando esse espaço fica grande demais, não é ocupado por consenso, nem por resoluções internacionais. É ocupado por quem decide. Mesmo que decida mal ou que decida sozinho.

